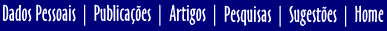|
Brasil:
inserção internacional e suas principais dimensões
Resumo:
A inserção internacional do Brasil ocorre com a alternância
periódica de suas políticas de comércio exterior:
ora privilegia a produção interna, ora a livre competição
internacional. O Brasil evita confrontos com outras nações
celebrando acordos e tratados; promove sua inserção
no mercado regional e global, observando as dimensões da globalização.
Palavras-chave: Política de comércio exterior, inserção
internacional, dinâmica competitiva, globalização,
blocos econômicos.
O Brasil vem alterando ao longo das últimas décadas a sua
política de comércio exterior. Em determinados períodos
privilegiou a produção interna e, em outros, defendeu a competição
com o exterior.
Pelas dificuldades naturais na identificação de uma estratégia
de inserção internacional, as experiências diplomáticas
do Brasil, nas últimas décadas, incluem participações
em foros internacionais, focalizando postulações dos países
em desenvolvimento e viabilizando posturas negociadoras em substituição
às atitudes de confronto.
A inserção internacional do Brasil é conseqüência
do “comércio administrado” através do crescente número
de Tratados e Acordos, que consideram as diversas dimensões da globalização,
como:
a) Dimensão comercial - Uma visão genérica
da evolução da estrutura de comércio permitirá
identificar os fluxos de produtos de acordo com a intensidade de fatores
de sua produção e o seu grau de atualização
tecnológica. Reproduzindo fatos conhecidos é possível
associar essa estrutura com as tendências dos fluxos de investimento
e com mercados potenciais.
No período 1970/91, as exportações brasileiras cresceram
em média, 11,5% ao ano. Poucos países mostraram a mesma performance.
Esse crescimento aliado à diversificação tem como
resultado variações mais expressivas das exportações
de produtos das indústrias de insumos básicos e de semimanufaturados,
oriundos de recursos naturais.
Os dados que permitiram esse estudo (Baumann, 1995), confirmam a importância
dos produtos com elevado componente de recursos naturais e com certo grau
de transformação. São mais produtos minerais e de
insumos básicos associados às vantagens locais de proximidade
da fonte de insumos do que produtos agrícolas, e à implementação
dos grandes projetos verificados no início da década passada.
Registre-se o desempenho das indústrias de conteúdo tecnológico
médio ou alto, cuja produtividade se beneficiou da exploração
das economias de escala.
Para o autor, a estrutura de comércio diversificada dificulta a
identificação de um padrão setorial nítido,
e uma postura mercantilista que procure obter saldos positivos em toda
a pauta de comércio tende a comprometer o próprio desempenho
exportador. Em apreciações pessimistas, o Brasil diversificou
sua estrutura de exportações, mas continua posicionado em
mercados de baixo dinamismo de demanda. Por outro lado, o país conseguiu
desenvolver vantagens comparativas em segmentos de mercados altamente diferenciados
e com grande dinamismo.
“Com
exceção dos produtos primários energéticos,
das semimanufaturas baseadas em recursos minerais, e das manufaturas com
conteúdo tecnológico médio e alto, em todos os demais
produtos classificados, o sinal da balança comercial foi, em média,
positivo na década de 1980, na maioria dos casos invertendo a situação
observada na década anterior.
Parte das explicações para esses resultados estão
associadas ao ciclo interno do produto e à vigência de uma
política restritiva às importações, que teriam
desestimulado a demanda por produtos importados. Mas não cabe dúvida
de que esses saldos também foram obtidos graças ao dinamismo
e ao processo de diversificação das exportações”.
(BAUMANN, 1995). |
O aspecto definido em termos de alinhamento comercial do Brasil é
sua participação no Mercosul. Fica evidente que a aposta
no mercado regional é importante – embora insuficiente – sobretudo
para os produtos com maior conteúdo tecnológico. Levando
em consideração apenas o tamanho desse mercado, existem claras
oportunidades a explorar em outros mercados mais expressivos. Entretanto,
um novo padrão de especialização comercial que revertesse
a importância relativa dos produtos manufaturados não traria
vantagens. O Brasil tem presença discreta na maior parte dos mercados
– menos ALADI e Mercosul. Nota-se, também um decréscimo nas
exportações a diversos grupos de países, indicando
negócios perdidos, particularmente no caso das manufaturas.
b) Dimensão do movimento de capital que determinava
a inserção de um país no mercado internacional era
a estrutura de comércio. A globalização é um
fator de integração adicional. E, o padrão de vínculos
econômicos internacionais, pode ser modificado através do
investimento externo direto que, na verdade é o determinante na
estrutura desse processo.
"Neste novo contexto, o Brasil, na década de 1970 foi o país
em desenvolvimento que mais teve investimento externo direto (média
de US$ 1,4 bilhão ao ano), duas vezes mais do que o investido no
México, o segundo da lista das 10 maiores economias em desenvolvimento.
Já na década seguinte, o Brasil ocupava a quarta colocação,
precedido de Cingapura, México e China". (BAUMANN, apud UN, 1993).
De 1990 a 1993, o ingresso de recursos externos na América Latina
foi de US$ 44 bilhões. A entrada líquida de recursos em 1992
superou em 50% o montante investido no ano de 1981, último ano antes
da crise da dívida externa que abalou a região. Nesse período
– 1990/93 – o Brasil recebeu entre 20 e 25% dos recursos para os países
da América do Sul não exportadores de petróleo. Argentina
e México receberam maior valor desses investimentos.
Quando comparados com outros países da região a atratividade
brasileira deixou a desejar. A explicação para isso, talvez,
sejam as características diferenciadas, dos investimentos, em cada
país: reestruturação da indústria automotriz
e serviços (turismo e comunicações), no México;
telecomunicações e transporte aéreo, na Argentina
e Venezuela; modernização das subsidiárias em operação,
no Brasil.
“Esse último aspecto traz à discussão a principal
peculiaridade do país em relação ao capital externo.
O Brasil é o país em desenvolvimento com o maior estoque
de capital estrangeiro. Isso tem implicações para o processo
de globalização da produção, e pode constituir
um elemento a ser considerado na discussão sobre a inserção
internacional do país”. (BAUMANN, 1995).
Essa afirmação pode ser constatada nos dados publicados em
UN (1992). Do estoque de capital estrangeiro no Brasil, em 1989, 36% eram
provenientes de empresas da Comunidade Européia. Segundo a mesma
fonte, no período de 1985-89, o fluxo de investimento direto externo
no Brasil foi de 51% e provinha de países europeus. Essa tendência
é também constatada no ano de 1990: na América Latina,
enquanto o estoque de capital estrangeiro era de origem norte-americana,
no Brasil, Paraguai e Uruguai predominava o capital europeu.
Pode-se atribuir à origem desses recursos à evidência
do aumento, no Brasil, das exportações das empresas subsidiárias
de matrizes européias. Sendo essa estratégia exportadora
bem-sucedida, um dos pré-requisitos foi o suporte adequado de financiamento.
E isso é mais comprobatório quanto maior for a participação
de produtos industrializados entre os itens exportados por essas subsidiárias,
que também financiaram a produção e a comercialização
desses bens. Nesse raciocínio pode-se afirmar que uma integração
maior com os fluxos financeiros internacionais deve ser a contrapartida
do projeto de desenvolvimento.
Entretanto como a inserção financeira tem limitação
na identificação dos fluxos de recursos, e que todo o capital
investido busca rentabilidade, pode se converter em fonte de instabilidade
econômica. Pequenas variações nas taxas de juros
em relação aos principais mercados são capazes de
provocar movimentos substanciais no fluxos desses recursos.
A crescente participação de investidores institucionais tem
dado novas características ao mercado de capitais internacional.
E, como os atributos de origem do investimento estão associados
à complementação produtiva e ao potencial de intercâmbio,
as estratégias dos agentes envolvidos podem ser relevantes para
a determinação dos resultados.
c) Dimensão dos agentes econômicos - Na história
do comércio internacional não há registro sobre a
forma e ritmo de crescimento como o verificado nos últimos anos.
Em 1990 o investimento direto externo, no mundo, era de US$ 1,7 trilhão,
sendo a metade controlado por 50 empresas de grande importância,
que administravam cerca de 30% do comércio mundial, constituído
de operações realizadas de acordo com a lógica interna
de expansão e estratégia de mercado dessas empresas.
Como essas operações ocorrem em vários países
e em diversas moedas é difícil medir a atuação
dessas empresas, para Baumann, fica evidente que “a globalização
financeira, associada ao desenvolvimento de serviços e à
interação de atividades entre subsidiárias diversas,
tem contribuído para modificar os determinantes do desempenho comercial
de diversas economias”.
As empresas, com maior ênfase às subsidiárias de estrangeiras,
têm propiciado grande intensidade da inserção internacional
do Brasil e, todas elas têm procurado adequar-se às tendências
de globalização, aumentando sua produtividade como nunca
visto antes. Esse aumento na produtividade originou-se a partir de técnicas
modernas de produção, controle de preços e de produto,
além de outras medidas que resultam na maior eficiência da
produção e no potencial de competitividade no mercado mundial.
Tudo ia muito bem, mas a recessão da década de 1980
provocou a queda na competência e perda na participação
nos principais mercados, resultado da falta de consistência nas políticas
macroeconômicas.
Essas empresas, como agentes econômicos, adaptaram-se para enfrentar
o processo de abertura da economia e as novas características do
processo produtivo. Isso provocou a redução da oferta de
emprego por unidade de produto, assim como a hierarquia interna. Outra
característica desse processo de adaptação é
identificada pelas novas estratégias de mercado e de produção.
De positivo obteve-se um parque industrial moderno e competitivo em relação
aos principais competidores do mercado mundial, oferecendo aos mesmos,
equipamentos e produtos fabricados próximos ao que há de
mais moderno, e vendidos pelos seus próprios canais de exportação.
O comércio intra-indústria atingiu, no final da década
de 1980, níveis expressivos de participação nos fluxos
de comércio bilateral entre o Brasil e seus principais parceiros.
d) Dimensão geopolítica empre que o tema inserção
internacional é mencionado, tem-se em mente os aspectos comerciais.
Na maioria das vezes ele desenvolvido, direcionado e enfocado num sentido
economicista. Entretanto, o assunto, inserção internacional,
deve levar em consideração a posição geográfica
e as questões políticas.
Baumann, cita como exemplos, os conflitos gerados a partir da mineração
ilegal, o tráfico de drogas e a migração transfronteira
na região amazônica que exigem soluções efetivas
e não apenas ações repressivas como têm sido.
“Acordos que regulamentem essas questões podem ter implicações
econômicas que a análise convencional de criação
e desvio de comércio não contemplaria ou não recomendaria”.
“O comércio ativo fronteiriço, os investimentos e talvez
os fluxos migratórios decorrentes da vizinhança geográfica
e/ou de identidade cultural podem levar à maior integração
regional, na falta de instituições regionais de jure”. (BAUMANN,
apud Oman, 1994).
Citando Motta Veiga (1993), Baumann diz que no caso das relações
fronteiriças ou regionais, o Mercosul é a única manifestação
explícita de estratégia brasileira. A ampliação
desse referencial e a criação de um espaço para tratar
de assuntos como problemas fronteiriços, é a proposta de
formação da ALCSA (Área de Livre Comércio Sul-Americana),
apresentada pelo governo brasileiro em reunião da ALADI, em outubro
de 1993.
Ultrapassando as questões fronteiriças, a dimensão
geopolítica reforça a percepção de que o Brasil
deverá se posicionar claramente sobre alguns temas globais
como segurança, desenvolvimento e meio ambiente, comércio
e finanças, saúde, ciência e tecnologia. As conclusões
a que chegar sobre essas questões, podem não favorecer e
ser contrárias até, àquelas advindas da análise
econômica. Assim sendo a inserção internacional é
determinada por condicionantes, muitas vezes não captados pelos
modelos econômicos convencionais, havendo razões para se pensar
em outra dimensão de análise, na qual, a inserção
internacional deve ser concebida em forma abrangente a partir de uma estratégia
de longo prazo.
O acesso a alguns mercados, com a redução dos riscos de barreiras
comerciais podem ser assegurados pelos acordos regionais, e um alinhamento
com outros blocos econômicos – NAFTA, por exemplo – não deve
ser descartado.
Existe cada vez mais sintonia e necessidade de inserção competitiva
da produção internacional.
“Numa economia grande como a brasileira, parece mais apropriada a idéia
de exportações lideradas pelo crescimento, o que, por sua
vez, envolve de maneira crucial a incorporação – pelo projeto
de desenvolvimento – da experiência, das tendências e das sinalizações
externas, para que a dinâmica competitiva possa funcionar”. (VELLOSO,
apud Bradford, 1994).
Enquanto Renato Baumann apontou quatro dimensões, o advogado e sociólogo
Liszt Vieira, abordando o tema globalização, cita cinco dimensões:
e) Dimensão econômica - Os agentes mais dinâmicos
da globalização não são os governos que formaram
os mercados comuns em busca da integração econômica,
mas os conglomerados e empresas transnacionais que dominam a maior parte
da produção, do comércio, da tecnologia e das finanças
internacionais.
f) Dimensão política - Como o Estado continua sendo
um ator fundamental da política internacional, os conceitos dominantes
das ciências sociais são inadequados para compreender os fenômenos
e os cenários transnacionais emergentes que extrapolam o plano econômico.
g) Dimensão social - O século XX conduziu a economia
global a uma encruzilhada: o processo de reestruturação econômica
levou o mundo em desenvolvimento à fome, e grandes parcelas da população
ao empobrecimento. A nova ordem financeira internacional parece nutrir-se
de exclusão social e degradação ambiental.
h) Dimensão ambiental - Verifica-se, no mundo de hoje,
uma globalização crescente dos problemas ligados ao meios
ambiente. O domínio do homem sobre a natureza aumentou consideravelmente
com a industrialização. A produção industrial
e agrícola, o desenvolvimento das biotecnologias, a urbanização
acelerada produziram um impacto negativo sobre o meio ambiente.
i) Dimensão cultural - Segundo Renato Ortiz a americanização
do mundo é a tese mais conhecida sobre globalização.
É divulgada tanto pelos adeptos convictos do americam way of life
quanto pelos que denunciam o imperialismo cultural norte-americano.
Liszt, vai além. Não querendo esgotar as dimensões
da globalização, cita o Eduardo Viola que, em seu livro publicado
em 1996 afirma que a globalização tem seis dimensões:
militar, política, econômica, cultural-comunicacional, ambiental
e científico-tecnológica. Entretanto próprio
Eduardo Viola, no mesmo livro, reconhece 13 dimensões da globalização:
militar, econômico-produtiva, financeira, cultural-comunicacional,
religiosa, interpessoal-afetiva, científico-tecnológica,
populacional-migratória, esportiva, ecológico-ambiental,
epidemiológica, criminal-policial e política.
Conclusão: As diferentes políticas de comércio
exterior praticadas pelo Brasil, foram impulsionadas, principalmente,
por fatores externos. As relações internacionais são
constitucionalmente regidas pela "defesa da paz" e da "solução
pacífica entre os povos"; com a abertura da economia, os mercados
direcionam as políticas públicas.
A dinâmica da globalização empresarial que
movimenta os mercados de bens, de serviços e de capitais, cresce
em poder econômico. Os interesses, especialmente das grandes empresas
multinacionais, recebem legitimidade do governo quando este celebra
acordos e tratados internacionais, na maior parte dos casos.
As dimensões e motivações da inserção
global do Brasil são lideradas basicamente pelos fatores econômicos.
Os demais fatores, inclusive os sociais, são decorrentes e
consequentes, para muitos especialistas. Esta lógica ou modelo não
sobreviverá durante o próximo século. Novos eventos
no mundo poderão mudar a direção e o nível
de inserção econômica internacional, sendo a mobilização
social a única capaz de realmente mudar o curso da história.

|